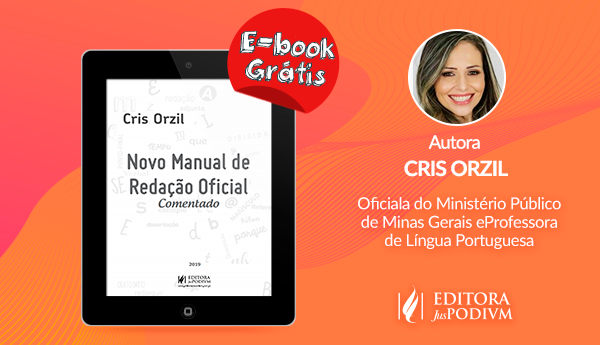O entendimento consolidado no julgado que comentamos nesta oportunidade ancora-se exatamente na ausência da qualificação que deve revestir um dos sujeitos da relação de consumo tutelado pelas normas do Código de Defesa do Consumidor: a vulnerabilidade. Como se sabe, a vulnerabilidade é a pedra de toque do sistema de proteção do consumidor; é a situação inerente ao consumidor, justificadora das normas de ordem pública e interesse social que garantem sua proteção. A isso, somou-se o fato de as empresas de factoring não se enquadrarem no conceito de instituição financeira.
FACTORING. OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. CDC
A atividade de factoring não se submete às regras do CDC quando não for evidente a situação de vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante. Isso porque as empresas de factoring não são instituições financeiras nos termos do art. 17 da Lei n. 4.595/1964, pois os recursos envolvidos não foram captados de terceiros. Assim, ausente o trinômio inerente às atividades das instituições financeiras: coleta, intermediação e aplicação de recursos. Além disso, a empresa contratante não está em situação de vulnerabilidade, o que afasta a possibilidade de considerá-la consumidora por equiparação (art. 29 do CDC). Por fim, conforme a jurisprudência do STJ, a obtenção de capital de giro não está submetida às regras do CDC. Precedentes citados: REsp 836.823-PR, DJe 23/8/2010; AgRg no Ag 1.071.538-SP, DJe 18/2/2009; REsp 468.887-MG, DJe 17/5/2010; AgRg no Ag 1.316.667-RO, DJe 11/3/2011, e AgRg no REsp 956.201-SP, DJe 24/8/2011. REsp 938.979-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/6/2012.
COMENTÁRIOS
A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao considerar as pessoas jurídicas como consumidoras, desde que a relação demonstre a presença da vulnerabilidade – pedra de toque do microssistema jurídico criado pelo CDC. Sobre o tema, tivemos a oportunidade de expor um breve estudo quando comentamos o REsp 932.557-SP, também da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, publicado no informativo nº 490 do STJ. Por questões de didática, transcreveremos tais explanações também nesta ocasião, in verbis:
“Para que haja o correto enquadramento de uma pessoa jurídica como apta a receber a proteção do CDC, o aplicador do direito deve analisar três elementos que compõem a regra em comento: o primeiro é de ordem subjetiva, de forma a identificar o sujeito da relação; o segundo, de caráter objetivo, se relaciona à atividade desempenhada pelo sujeito; o terceiro é de ordem teleológica ou finalística, identificando a finalidade a ser atingida pelo sujeito da relação. Essa construção é de autoria de Nelson Nery Júnior – um dos autores do Anteprojeto do CDC. Dessa forma, ao se deparar com a redação do art. 2º do CDC, devemos nos fazer três perguntas:
1. Quem é consumidor?
2. O que faz o consumidor?
3. Para quê o consumidor faz?
A resposta a essas três indagações nos é fornecida pelo próprio artigo: consumidor é toda pessoa física ou jurídica (elemento subjetivo) que adquire ou utiliza produto ou serviço (elemento objetivo) como destinatário final (elemento teleológico ou finalístico).
Quanto aos elementos subjetivo e objetivo, não há maiores dificuldades em identificá-los. O problema reside justamente no elemento teleológico, que levou à formação de duas grandes teorias interpretativas: finalista e maximalista.
A jurisprudência dos tribunais, inclusive a do próprio STJ não é pacífica nesse sentido, revelando a dificuldade na analise fática em que duas pessoas jurídicas ocupam pólos opostos numa relação negocial – uma como fornecedora e outra como consumidora.
A regra do art. 2º revela que o CDC adotou, claramente, a teoria finalista (majoritária) ao definir o consumidor como aquele que adquire bens e serviços no mercado de consumo como destinatário final. De acordo com essa teoria, o consumidor, além de destinatário final, deve ser também o destinatário econômico dos produtos e serviços, ou seja, o destinatário fático, no qual se exaurem as finalidades do produto, conferindo contornos mais precisos à expressão consumidor. O vocábulo consumo traz a idéia de esgotamento, desaparecimento, exaurimento, destruição imediata de uma substância. Exemplificando, para os finalistas será consumidor aquele que adquire gêneros alimentícios, vestuário, produtos de higiene pessoal, fornecimento de energia elétrica, água e coleta de esgoto para servir à sua residência etc., de forma a satisfazer as suas necessidades e de sua família.
Os adeptos da teoria finalista são radicais ao interpretar o conceito. Na lição de Leonardo de Medeiros Garcia, “consumidor seria o não profissional, ou seja, aquele que adquire ou utiliza produto para uso próprio ou de sua família”. Para contornar bem a questão, o autor em referência cita o irretocável ensinamento da mestra gaúcha Cláudia Lima Marques:
“(…) destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência, é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Nesse caso não haveria a exigida destinação final do produto ou serviço” (Cláudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4ª edição. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2002, p. 53, apud Leonardo de Medeiros Garcia. Direito do Consumidor: código comentado e jurisprudência. 7ª ed. Rev. Amp. E atual. Niterói: Impetus, 2011, p. 13).
(…)
Por sua vez, os adeptos da teoria maximalista (minoritária) admitem um conceito mais elástico de consumidor, admitindo que seja tão somente o destinatário fático do produto ou serviço, até mesmo nos casos em que um produto ou serviço seja adquirido como insumo, incremento para a atividade profissional desempenhada por aqueles que venham simplesmente a retirar o bem de consumo da cadeia produtiva. Nesse ponto, o CDC se assemelharia ao Código de Consumo da França (Code de la Consommation), o qual tutela não somente os interesses dos consumidores, mas também os interesses dos fornecedores, isto é, tutela-se não um sujeito de direitos (consumidor), mas uma atividade (consumo).
Cabe destacar que existe, ainda, uma corrente intermediária, que destaca a existência de bens de consumo intermediários. Segundo os adeptos dessa corrente, são bens que não têm qualquer valor econômico para o destinatário final do produto ou serviço, mas sim para o produtor e para o prestador de serviço, que são os verdadeiros consumidores desses bens, v. G., a sociedade de advogados que adquire livros para a biblioteca do escritório, o médico que adquire um estetoscópio, o dentista que adquire uma estufa de esterilização etc. Ora, estetoscópios, via de regra, são usados pelos profissionais da área de saúde (médicos, enfermeiros); livros jurídicos, via de regra, são usados pelos profissionais da área jurídica; brocas odontológicas são utilizadas por dentistas. Ou seja, pode-se dizer que esses produtos possuem um público praticamente exclusivo. Como não considerá-los consumidores?! No caso desses bens, em que pese auxiliarem aquelas pessoas em sua atividade profissional, não sofrem transformações, acréscimos, manipulações etc., com vistas a serem reintegrados na cadeia de produção e circulação. Em síntese, o uso desses bens se exaure na própria atividade de quem os adquire. São, portanto, consumidos.
Em todo caso, é inafastável a ideia de que a pedra de toque das relações de consumo é a vulnerabilidade do consumidor, isto é, sua fraqueza, fragilidade diante do fornecedor, o qual detém todas as informações sobre a empresa, o que o coloca em vantagem sobre o consumidor, que na maioria das vezes, nada conhece sobre o produto ou serviço que adquire. Imagine-se uma pessoa comum, que adquire um helicóptero para uso próprio, para utilizá-lo como meio de transporte, como é o caso de muitos empresários na cidade de São Paulo, que possui uma das maiores frotas de helicóptero do mundo. Ora, sobrevindo um defeito no motor do aparelho, fica evidenciada a vulnerabilidade do consumidor, pois somente a fabricante da aeronave detém todas as informações sobre a respectiva mecânica, a técnica de fabricação, montagem, funcionamento, materiais utilizados, etc.
Sendo assim, inexistindo vulnerabilidade na relação de consumo envolvendo pessoas jurídicas, seja essa vulnerabilidade de ordem técnica, jurídica, econômica ou informativa, vigorará entre as partes as disposições do Código Civil, por se encontrarem, presumidamente, em pé de igualdade. Como se sabe, o diploma civilista rege as relações entre iguais. Sobre o tema, André Luiz Santa Cruz Ramos assevera que “no âmbito do direito empresarial, o norte interpretativo deve ser sempre, na nossa modesta opinião, a autonomia da vontade das partes. Caso contrário, o que se instaura é a insegurança jurídica, que se manifesta especificamente nas atividades econômicas como um obstáculo ao desenvolvimento” (In Direito Empresarial Esquematizado. 1ª Ed. São Paulo: Método, 2011, p. 435).”
A questão de fundo demanda verificar se a recorrente pode ser enquadrada no conceito de consumidor, estampado no art. 2º do CDC.
Da leitura do acórdão, percebe-se que a Turma acolheu a tese defendida pelos finalistas, que tem como um de seus maiores expoentes a professora gaúcha Cláudia Lima Marques, cuja lição é citada na decisão. Vejamos trecho do aresto:
“Sob esse enfoque, desnatura-se a relação consumerista se o bem ou serviço passar a integrar a cadeia produtiva do adquirente, ou seja, for posto à revenda ou transformado por meio de beneficiamento ou montagem.
Dessarte, consoante doutrina abalizada sobre o tema, o destinatário final é aquele que retira o produto da cadeia produtiva – destinatário fático -, mas não para revendê-lo ou utilizá-lo como insumo na sua atividade profissional -, destinatário econômico.
Este o entendimento de Claudia Lima Marques:
Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência – é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida” destinação final “do produto ou serviço, ou, como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e distribuição (Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 71)”
Nada obstante, o próprio STJ possui precedentes em que a teoria finalista restou mitigada no caso concreto. Por todos, transcrevemos o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. O consumidor intermediário, ou seja, aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, poderá ser beneficiado com a aplicação do CDC quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1316667/RO, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 11/03/2011).
A conclusão exposta na ementa acima possui fundamento na existência de uma terceira corrente que se situa entre o finalismo e o maximalismo, e que destaca a existência de bens de consumo intermediários.
Segundo os adeptos dessa corrente, são bens que não têm qualquer valor econômico para o destinatário final do produto ou serviço, mas sim para o produtor e para o prestador de serviço, que são os verdadeiros consumidores desses bens, v.g., a sociedade de advogados que adquire livros para a biblioteca do escritório, o médico que adquire um estetoscópio, o dentista que adquire uma estufa de esterilização, engenheiros e arquitetos que adquirem esquadros e mesas de desenho para seu estúdio etc. Ora, estetoscópios, via de regra, são usados pelos profissionais da área de saúde (médicos, fisioterapeutas, enfermeiros); livros jurídicos, via de regra, são usados pelos profissionais da área jurídica; brocas odontológicas são utilizadas por dentistas.
Sendo assim, pode-se dizer que esses produtos possuem um público praticamente exclusivo. Como não considerá-los consumidores?! No caso desses bens, em que pese auxiliarem aquelas pessoas em sua atividade profissional, não sofrem transformações, acréscimos, manipulações etc., com vistas a serem reintegrados na cadeia de produção e circulação. Em síntese, o uso desses bens se exaure na própria atividade de quem os adquire. São, portanto, consumidos.
No entanto, não é essa a situação sob exame, pois, ao firmar contrato de faturização para a obtenção de capital de giro, a sociedade empresária não está obtendo tal numerário para consumo próprio, para a satisfação de suas necessidades pessoais, mas sim para fomentar sua atividade, repassando o respectivo custo para o consumidor final, o que afasta a incidência das regras insertas no codex consumerista. Aliás, uma das terminologias utilizadas para delinear a natureza jurídica dessa espécie de contrato empresarial denuncia sua finalidade, qual seja, fomento mercantil.
Conforme destacado, o julgado analisou relação jurídica instrumentalizada por um contrato de factoring, que é assim conceituado por André Luiz Santa Cruz Ramos:
“Trata-se, enfim, de um contrato por meio do qual o empresário transfere a uma instituição financeira (que não precisa ser, necessariamente um banco) as atribuições atinentes à administração de seu crédito.
(…)
Em síntese: a instituição financeira orienta o empresário acerca da concessão de crédito a seus clientes, antecipa o valor dos créditos que o empresário possui e assume o risco da inadimplência desses créditos (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. 1ª Ed. São Paulo: Método, 2011, p. 482).
Percebe-se que o eminente comercialista, ao conceituar o contrato de factoring, considera que o faturizador, isto é, a sociedade empresária contratada para gerir os créditos da faturizada (contratante) é uma instituição financeira. No entanto, a 4ª Turma do STJ, ao julgar a questão, assim não entendeu, fundamentando a decisão, nesse ponto, no art. 17 da Lei nº 4.595/64, que assim dispõe:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Com base no dispositivo supra, o órgão julgador afastou as sociedades empresárias faturizadoras do conceito de instituição financeira, nem mesmo admitindo-as como tal a título de equiparação, nos moldes do respectivo parágrafo único. Nada obstante, nesse ponto, o conceito doutrinário colacionado linhas atrás corrobora esse entendimento, pois, as empresas de factoring realmente não desenvolvem nenhuma das atividades previstas no art. 17 da Lei nº 4.595/64. Em outras palavras, não há, de fato, a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, mas tão somente a gerência de créditos de terceiros, com a assunção de todos os riscos de eventual inadimplência por parte dos respectivos devedores.
Sintetizando, apenas excepcionalmente a pessoa jurídica poderá ser considerada consumidora. Em regra, os contratos empresariais submetem-se às regras do direito comum, por não se identificar, nesses casos, a presença da vulnerabilidade de um contratante em relação ao outro. No caso das empresas de factoring, a teor da Lei nº 4.595/64, não há como considerá-las como instituições financeiras, nem mesmo por equiparação.