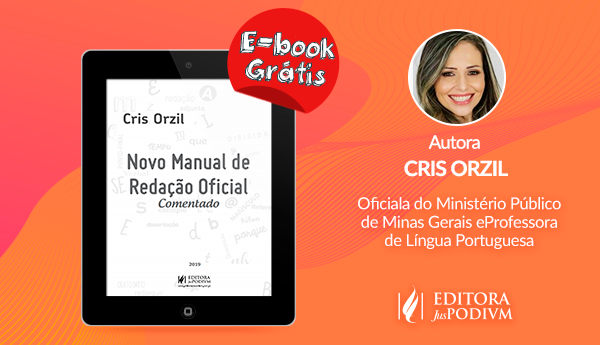Talvez seja interessante começar com o óbvio, com os primeiros passos. E o primeiro passo é afirmar que estudar responsabilidade civil, atualmente, pouco ou nada se parece com o estudo da responsabilidade civil que se fez durante boa parte dos séculos passados. Não que as discussões técnicas do passado não importem, não é isso. É que a sociedade mudou tanto, tantas são as novas cores das relações sociais, que dificilmente os problemas de hoje podem ser resolvidos (apenas) com as ferramentas do ontem. Nesse sentido, aliás, podemos dizer que a responsabilidade civil evolui não só buscando novos conhecimentos, novas técnicas: ela evolui também ao buscar novos olhares, isto é, olhos novos permitem que vejamos realidades que antes não éramos capazes de ver.
Vivemos dias que aprenderam a redefinir as funções que as constituições desempenham. Não mais uma relação distante entre a Constituição Federal e os cidadãos, ou entre a Constituição Federal e as leis. Mesmo certas leis – mais conhecidas e mais relevantes, como por exemplo o Código Civil – não dialogavam nos séculos passados com a Constituição. Pelo menos essa era a regra. Cada disciplina regia, soberana, determinada área, sem interdisciplinariedade. Cabia às constituições, apenas, definir a estrutura do Estado e traçar algumas linhas pertinentes ao direito público. Mesmo quando aludia a temas de direito privado, eles não eram tidos como vinculantes, não eram considerados como norma jurídica, não tinham impacto na interpretação e na aplicação do direito.
Hoje não é mais assim.
Em face da atual Constituição da República – que adotou, entre os princípios fundamentais da República, a cidadania, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, I e III), e entre os objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I) – ampliou-se, de modo generoso, o panorama de análise da inconstitucionalidade das leis. Não só isso. Vários institutos – entre eles, de modo particularmente relevante, a responsabilidade civil – tiveram sua feição redefinida a partir das opções valorativas da Constituição.
A dignidade humana – assim como a solidariedade social – não constitui, obviamente, princípio de aplicação exclusiva do direito civil, mas de incidência vasta em todo o sistema jurídico instaurado pela Constituição de 1988. Os princípios mencionados neste tópico (dignidade e solidariedade, por exemplo) – assim como todos os outros – só socialmente podem ter sua carga significativa revelada (e não de modo abstrato). Nessa ordem de ideias, a dignidade humana – e sua cláusula irmã que postula o livre desenvolvimento da personalidade humana –, além da solidariedade social, devem iluminar a solução das controvérsias no direito dos danos do século XXI.
Podemos afirmar, sem medo do exagero, que “a responsabilidade civil tem representado nos países ocidentais um papel verdadeiramente revolucionário”. Há muitos conceitos e categorias que, funcionalizados, permitem esse novo olhar, essas novas funções para a responsabilidade civil. É isso que veremos neste primeiro capítulo. Talvez caiba lembrar, ainda, que muitas das mais importantes revoluções na responsabilidade civil ocorrem no silêncio da lei.
Vejamos hoje as relações entre a responsabilidade civil e a dignidade humana, de modo breve.
Há, hoje, toda uma construção – normativa e conceitual – a partir do princípio da dignidade da pessoa humana. Não há setor da experiência jurídica que não tenha, de algum modo, sido atingido pela eficácia irradiante desse princípio. Direito público e direito privado, relações simétricas e relações assimétricas, com ou sem a participação estatal, é certo que a dignidade humana se projeta com singular força normativa por toda a ordem jurídica. Talvez não seja exagero afirmar que boa parte da abertura do sistema jurídico dos nossos dias se opera através da dignidade da pessoa humana – e suas múltiplas e transformadoras dimensões de eficácia. Trata-se de norma aberta que impõe não apenas omissões (dever de não agir contra a dignidade), mas também ações, prestações (dever de agir, positivamente, para realizá-la).
É a partir da dignidade da pessoa humana “que todos os demais princípios (assim como as regras) se projetam e recebem os impulsos para os seus respectivos conteúdos normativo-axiológicos, o que não implica aceitação da tese de que a dignidade é o único valor a cumprir tal função e nem a adesão ao pensamento de que todos os direitos fundamentais (especialmente se assim considerados os que foram como tais consagrados pela Constituição) encontram seu fundamento direto e exclusivo na dignidade da pessoa humana”. A Constituição, nessa ordem de ideias, reconhece que o Estado existe em razão da pessoa humana e não o contrário. Ficou no passado, no museu das ideias, a concepção que instrumentalizava o ser humano em prol do Estado. Aliás, hoje sabemos que os seres humanos é que são titulares de direitos fundamentais, não o Estado.
As democracias constitucionais contemporâneas – com a contribuição dos princípios, conceitos e regras do direito civil – não toleram qualquer tentativa de coisificar a pessoa humana. A dignidade remete, sem dúvida, entre seus sentidos principais, a não-coisificação do ser humano. Se há, aqui e ali, certos exageros no uso conceitual e normativo da dignidade da pessoa humana, isso não pode encobrir a verdade básica, que se extrai da nossa Constituição: trata-se de vetor normativo vinculante, da mais alta importância, e que redefine, em muitos sentidos, a incidência e aplicação das normas jurídicas brasileiras. Não esqueçamos que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a propriedade de uma pessoa sobre outra, em terrível mancha histórica (apenas em 1888). O intérprete do século XXI deve ter uma atenção prioritária com a pessoa humana, e não com o seu patrimônio. O patrimônio é mero instrumento de realização de finalidades existenciais e espirituais, não um fim em si mesmo.
Sabemos, porém, que há uma distância imensa entre as letras bem comportadas dos livros jurídicos e a realidade – tantas vezes cruel, violenta, desigual, que vemos lá fora. Como escrevemos em outra oportunidade, em palavra mais ampla: a brutalidade humana continua a espantar. Da Síria de hoje chegam imagens que chocam, que nos fazem perguntar se estamos mesmo no século XXI. A história humana é manchada, desde a noite dos tempos, pela perversidade de ditadores e seus asseclas, que agem como se não tivessem que responder pelas agudas maldades que praticam (convém lembrar que Stálin impôs a fome sistemática aos camponeses do seu país, matando mais pessoas do que os mortos durante a Primeira Guerra Mundial, mesmo se somarmos as vítimas dos dois lados do conflito).
O direito dos nossos dias não pode abordar o conceito de pessoa de modo puramente formal, socialmente descontextualizado. Do conceito jurídico (atual) de pessoa exige-se que esteja conectado à dignidade. Trata-se de princípio que perpassa, horizontalmente, o sistema jurídico em todos os setores e áreas. Não só horizontal, mas também verticalmente, estando a dignidade humana situada no ápice, como fundamento da República (CF, art. 1º, III), plasmando e conformando quaisquer leis, complementares ou ordinárias, quaisquer atos infralegais. Aliás, hoje, os juristas sabem que uma lei será tanto mais avançada quanto maior for sua potencialidade para exprimir a normativa constitucional. O Código de Processo Civil de 2015, art. 8º, reconhece essa realidade ao dispor: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Tão relevante é, hoje, a dignidade, que embora se reconheça que não há hierarquia entre princípios, a Corte Constitucional Alemã abre exceção para a dignidade da pessoa humana, colocando-o em patamar mais elevado, acima dos demais princípios.
Conforme dissemos antes, a dignidade humana, como princípio normativo, projeta múltiplas dimensões horizontais e verticais, no direito público e privado, impondo não só abstenções (não violar a dignidade) mas também, cada vez mais, ações (no sentido de promovê-la). Aliás, sabemos, hoje, que só há real dignidade se houver padrões mínimos de liberdade e de igualdade material. O mínimo existencial é indissociável do conceitual atual de dignidade humana. Lembre-se ainda que os valores existenciais relativos à dignidade só são verdadeiramente resguardados se o forem preventivamente, e não só de modo repressivo e posteriormente imperfeito.
A dignidade não é apenas um valor, um a priori, mas um princípio normativo em permanente processo de construção e desenvolvimento. Não se trata de conceito estático e rígido, mas dinâmico e plural. A dignidade da pessoa humana dialoga bem com a diversidade de valores que caracteriza as democracias constitucionais dos nossos dias. A dimensão cultural da dignidade alcança aspectos éticos de grande atualidade. A dimensão histórica do conceito é um convite à avaliação dos chamados “novos danos”. É, também, um vetor para a ponderação de bens (através da proporcionalidade) como técnica de aferição de danos injustos: várias colisões de princípios envolvem a dignidade humana num dos polos (lembremos, por exemplo, do direito à imagem, de um lado, e o direito da sociedade ao acesso à informação, do outro).
Podemos ainda afirmar que a dignidade compreende as seguintes dimensões (sem exclusão de outras): a) dignidade como reconhecimento do valor intrínseco de todo ser humano, o que afasta coisificações das pessoas; b) dignidade como autodeterminação nas escolhas existenciais fundamentais; e c) dignidade como direito fundamental oponível ao Estado. O Estado assume o papel de garantidor de direitos fundamentais (cabe, por exemplo, aos Estados constitucionais democráticos a proteção dos cidadãos, podendo responder caso falhem no cumprimento desses deveres, ou não realizem a proteção em níveis adequados). Nessa última dimensão entra a proteção das minorias, mas não só isso. O campo é amplo. Já se afirmou que “o princípio da dignidade humana pode ser realizado em diferentes dimensões e também pode ser violado em diferentes níveis”.
***
Quer conhecer responsabilidade civil, de forma ágil e clara? Os conceitos atuais, as discussões modernas e recentes? A última palavra da jurisprudência sobre todos os temas? É o que este livro tenta oferecer. Numa mistura bem dosada de doutrina e jurisprudência, o autor oferece, em tópicos sugestivos e criativos, a mais completa informação sobre a responsabilidade civil – seja nos conceitos gerais, seja nos setores específicos. É um livro que instiga por sua atualidade, cativa por sua clareza e impressiona pelo seu conteúdo. E por fim mas não menos importante: é um livro fácil de ler, com linguagem direta e atraente.